Este artigo analisa, sob uma perspectiva estratégica, os recentes episódios de tensão entre os Estados Unidos da América (EUA) e dois parceiros internacionais: a Ucrânia e a África do Sul. Os eventos, ocorridos no contexto de visitas diplomáticas à Casa Branca, revelam uma nova matriz de comportamento na política externa norte-americana sob a presidência de Donald Trump, marcada por unilateralismo, transaccionalismo e confrontação directa. À luz da teoria realista das Relações Internacionais, bem como da abordagem estratégica de autores como Henry Kissinger, Joseph Nye e Zbigniew Brzezinski, discute-se a implicação destes episódios para a ordem global contemporânea.
1. Introdução: A Nova Lógica do Poder Presidencial na Política Externa Norte-Americana
Ao longo da história, os EUA têm-se caracterizado por uma política externa que oscila entre o intervencionismo estratégico e o isolacionismo pragmático. Sob a presidência de Donald Trump, assiste-se a uma reconfiguração paradigmática baseada na doutrina “America First”, com implicações directas na forma como os EUA conduzem as suas relações bilaterais e multilaterais.
Segundo Nye, a liderança eficaz em política internacional exige uma combinação entre o hard power (poder militar e económico) e o soft power (influência cultural e diplomática). Trump, no entanto, privilegia um estilo de power politics, onde a força, a pressão e a imprevisibilidade tornam-se instrumentos centrais de negociação.
2. O Encontro com a Ucrânia: Entre Segurança Regional e Geopolítica de Recursos
Em 28 de Fevereiro, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deslocou-se a Washington com o objectivo de formalizar um acordo para a exploração dos recursos minerais ucranianos por empresas norte-americanas. Este acto deveria servir de base para garantir apoio adicional dos EUA face à ameaça militar russa.
Contudo, o encontro culminou num impasse. Trump acusou Zelensky de “brincar com a Terceira Guerra Mundial” e questionou a “gratidão” da Ucrânia perante os apoios recebidos. Este posicionamento reflecte uma visão de política internacional dominada pelo realismo clássico, onde os interesses nacionais imediatos se sobrepõem à construção de alianças duradouras.
Do ponto de vista estratégico, a Ucrânia posiciona-se como buffer state (Estado tampão) entre a NATO e a Federação Russa. Brzezinski já alertava que “sem a Ucrânia, a Rússia deixa de ser um império euroasiático”, razão pela qual a sua estabilidade é de interesse geopolítico vital. A ausência de acordo e o desrespeito pela sensibilidade diplomática revelam uma abordagem que prioriza o lucro e o cálculo de curto prazo, negligenciando os efeitos estratégicos de médio e longo prazo.
3. O Encontro com a África do Sul: Política Identitária e Realinhamento Geoestratégico
No dia 21 de Maio, o Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa foi recebido por Donald Trump com um discurso carregado de acusações: “limpeza étnica” contra brancos, “confisco de terras” e uma alegada “agenda antiamericana”. Apesar da agenda oficial incluir cooperação tecnológica e comércio, o encontro foi marcado por fricções ideológicas e políticas.
A acusação de Trump reflecte uma leitura enviesada da política interna sul-africana, ignorando os princípios de justiça redistributiva e reforma agrária defendidos no pós-apartheid. Segundo Galtung, a paz positiva exige transformação estrutural das desigualdades históricas, incluindo a redistribuição de recursos como a terra.
Além disso, a decisão dos EUA de cortar o financiamento à África do Sul, com base em alegações de apoio ao Irão e ao Hamas, revela uma tentativa de condicionar a política externa sul-africana à lógica do alinhamento ideológico. Essa postura é coerente com o que Morgenthau definiu como “interesse nacional entendido em termos de poder”, que impõe limites à autonomia dos Estados periféricos.
4. A Estratégia Transaccional como Nova Norma Diplomática
Os dois episódios evidenciam o predomínio de uma estratégia transaccional na política externa norte-americana: acordos são valorizados apenas se implicarem ganhos tangíveis e imediatos para os EUA. Não há espaço para multilateralismo, construção de confiança ou normas internacionais.
Segundo Allison, as decisões em política externa resultam do conflito entre interesses concorrentes dentro do governo. Com Trump, este modelo ganha uma nova dimensão: as decisões são centralizadas, personalizadas e altamente mediáticas, com forte apelo ao público interno.
Além disso, a retórica agressiva e a exposição pública de divergências diplomáticas enfraquecem o que Nye chama de smart power, isto é, a capacidade de influenciar combinando coacção com atracção. O resultado é uma erosão da imagem dos EUA como parceiro confiável no sistema internacional.
5. Conclusão: Lições para os Actores Internacionais
Os episódios envolvendo a Ucrânia e a África do Sul demonstram que, sob a presidência de Trump, a Casa Branca adopta uma postura menos institucionalizada e mais orientada por interesses circunstanciais. Esta mudança impõe aos actores internacionais, especialmente países em desenvolvimento, a necessidade de recalibrar as suas estratégias de relacionamento com Washington, privilegiando abordagens realistas, preventivas e baseadas na diversificação de alianças.
A diplomacia transformou-se num campo onde o improviso e a confrontação directa substituem o diálogo estruturado. Perante este cenário, a construção de uma política externa resiliente passa pelo fortalecimento das instituições regionais, o reforço da autonomia estratégica e o investimento em inteligência diplomática.
6. Recomendações Estratégicas para Angola no Actual Cenário Geopolítico
Perante o realinhamento da política externa dos Estados Unidos e a crescente imprevisibilidade nas relações diplomáticas, Angola deve adoptar uma postura estratégica baseada na autonomia inteligente, na diversificação de parcerias e no fortalecimento da sua diplomacia económica e multilateral.
Angola, enquanto potência regional em ascensão e Estado com vastos recursos naturais, deve evitar posicionamentos binários no xadrez global e reforçar os seus vínculos com plataformas multilaterais como a União Africana, SADC e CPLP. Além disso, precisa investir numa diplomacia baseada em inteligência estratégica — como propõe Henry Mintzberg —, articulando interesses nacionais com capacidade analítica sobre os riscos e oportunidades do sistema internacional.
O país deve também reforçar as suas capacidades de negociação soberana, estabelecendo cláusulas de protecção nacional em qualquer acordo internacional, sobretudo no sector dos recursos minerais, à semelhança do que se tentava negociar com a Ucrânia. Como ensina Michael Porter, a vantagem competitiva de uma nação está na sua capacidade de alinhar políticas públicas, estrutura institucional e vocação empresarial num modelo coerente de desenvolvimento sustentado.
Por fim, Angola deve apostar em capital diplomático e técnico, formando quadros com competência em geopolítica, comércio internacional e segurança estratégica, de modo a defender os seus interesses nacionais num mundo cada vez mais fragmentado e polarizado.
O conteúdo Trump na Sala Oval: a diplomacia como arma de intimidação estratégica aparece primeiro em Correio da Kianda – Notícias de Angola.
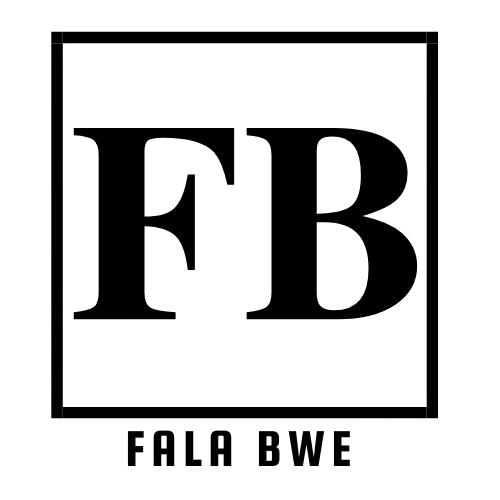


















Deixe um comentário